Todas os posts de deFausto Salvadori
História de dois monstros
Postado por Fausto Salvadori em 06/10/2015
https://inarravel.wordpress.com/2015/10/06/historia-de-dois-monstros/
Ponte
Tem coisas que a gente aprende a aceitar que são do jeito que são, que sempre foram assim e não serão diferentes.
Tipo.
“Fausto, checa essa história de dois caras que foram mortos lá no Parque Trianon. Se forem garotos de programa, faz uma nota por telefone, mesmo. Se for alguém de classe média, aí vale a pena ir até o local e fazer matéria. Pode até ser manchete.”
Eu era um moleque de 22 anos, recém-formado em Jornalismo, quando ouvi essa ordem, dita por um chefe do antigo Jornal da Tarde. Fiquei chocado. Eu me chocava com as coisas na época. Até me indignava, acreditava? É que eu era um moleque, com muito menos pêlo no rosto e barriga no abdome do que tenho hoje. E um monte de sonhos ainda intactos no peito.
Era a primeira vez que ouvia algo assim. Com o tempo, ouviria muitas outras. Anos depois, como repórter de madrugada no Agora SP, trampando enquanto meus chefes dormiam, precisava decidir em quais histórias valia a pena investir e quais era melhor deixar de lado. No dia seguinte, eu seria cobrado se tivesse corrido atrás da história errada. Na base da tentativa e erro, do esculacho e do esporro, fui aprendendo.
Aprendi que, mesmo num jornal que se diz “popular”, as histórias envolvendo gente pobre e negra, desenroladas nas quebradas mais distantes do centro, só enchiam as páginas se o dia estivesse muito fraco, e mesmo assim não repercutiam nas edições seguintes. Histórias quentes vinham de delegacias como o 78º DP, nos Jardins, do 15º, no Itaim Bibi, ou do 34º, no Morumbi (se bem que nesse era bom tomar cuidado porque a região também tinha muitas favelas, onde morte e vida não importam tanto para os jornalistas). Delegacias como o 47º DP, no Capão Redondo, ou o 25º DP, em Parelheiros, eram uma roubada: longes e cheias de histórias que rendiam pouco, porque aconteciam com gente que não valia tanto.
Logo, eu mesmo já tinha aprendido a fazer as perguntas certas para avaliar uma pauta.
“Esse cara que foi morto tinha qual profissão, você sabe?”
“Em que bairro isso aconteceu?”
Ou, sendo mais direto:
“Tem ideia da classe social dos envolvidos?”
Afinal, se era assim que as coisas eram, sempre foram e sempre serão, não adiantava fazer diferente.
Acho que em poucas áreas do jornalismo as barreiras entre as classes se mostram com tanta evidência como na cobertura policial – talvez só nas matérias de comportamento a opção por privilegiar a classe média branca seja tão ostensiva. A justificativa vem travestida de argumento comercial. Dizem que nem mesmo os pobres gastam dinheiro em jornal para ver outros pobres como eles. Que pobres e ricos, negros e brancos, preferem ver os dramas de ricos e brancos. Durante anos, o mesmo argumento foi usado para afastar os negros da publicidade e das capas de revista. Essa noção é tratada como uma verdade evidente por si mesma – embora nunca tenha sido testada, já que ninguém faz diferente.
E não só os jornalistas agem desse jeito. O poder público segue a mesma lógica, até porque pauta e é pautado pelo noticiário. A polícia brasileira, com sua estrutura ineficiente de divisão em Civil e Militar, só tem condições de investigar uma fração dos crimes que chegam até ela. Que critério ela vai usar nessa peneira? Ir atrás dos casos que geram mais repercussão na mídia é um deles. Agradar a pessoas influentes é outro. É só comparar a estrutura mobilizada pela polícia para investigar os casos envolvendo gente branca e bonita do centro expandido, como o casal Nardoni ou Suzane von Richtofen, que envolveu equipes enormes e recursos de seriado americano, com os inquéritos envolvendo gente da periferia, que muitas vezes se arrastam por meses sem fazer o trabalho mínimo de ouvir as testemunhas arroladas nos boletins de ocorrência.
Quando quer promover um policial, o governo o leva para os DPs nobres; ir trabalhar nas delegacias e nos batalhões da periferia é considerado uma punição e um exílio. Tanto para o governo como para os jornalistas, a vida além do centro expandido vale menos.
Como ia dizendo, com o tempo a gente aprende a aceitar que as coisas são como são e deixar de lado a rebeldia. Faz parte do processo de amadurecimento. E, se tem uma lição que o jornalismo ensina com propriedade, é a do conformismo. Creio que poucos ambientes conseguem ser mais autoritários do que uma redação de jornal. Os profissionais muitas vezes trabalham à margem da lei, aceitando condições de trabalho que provocariam uma greve se fossem impostas a operários de uma fábrica. São contratados ilegalmente, obrigando a abrir empresas para burlar a CLT, e vivem trabalhando de graça, entregando às empresas centenas de horas extras que nunca serão pagas. Demissões coletivas, chamadas passaralhos, fazem parte da rotina, e ninguém as contesta. Ordens vindas das castas superiores dos editores são tratadas como decretos divinos e discuti-las é visto como heresia.
Os repórteres, seres da redação que estão em contato mais próximo com a realidade, são os que recebem menos, tanto em grana como em prestígio, já que a realidade não importa. O que importa é o que a chefia diz que é a realidade. E não adianta discutir. As coisas são o que são. Aceitar é bom. Abaixar a cabeça significa matar o moleque rebelde dentro de você e amadurecer. E, uma vez maduro, só falta se deixar apodrecer e morrer.
O engraçado é que tem sempre uma galera com outro jeito de enxergar. Até veem as coisas como são, mas preferem olhar para como elas podem ser. E, hoje, com as novas tecnologias, nunca houve tantas ferramentas para gente desse tipo fazer as coisas do seu jeito.
Conheci uma galera que é assim, e nada me deixa mais feliz do que estar no meio desse povo e do projeto que estamos criando junto, a Ponte. Aqui, tem gente como Laura Capriglione e Bruno Paes Manso, que eu já lia antes de pisar pela primeira vez numa redação, e que me faziam pensar “um dia, quero escrever histórias que nem eles”. Tem o pessoal mais novo, feito o Padu e o Luís Adorno, que trazem jeitos novos de olhar para o que a gente achava que já conhecia. Tem André Caramante, que há anos me dá várias aulas de jornalismo só por vê-lo trabalhando, e William Cardoso, amigo de fé e irmão camarada, sangue de contador de histórias correndo pelas veias. Tem os amigos novos: Carol Trevisan, Caio Palazzo, Claudia Belfort, Gabriel Uchida, Joana Brasileiro, Rafael Bonifácio, Tati Merlino. Tem o Milton Bellintani, outro mestre. Tem Marina Amaral e Natália Viana, que, com a Agência Pública, provaram que as coisas no jornalismo não precisam ser como são.
Todos juntos, sem chefes, e ainda com pouca grana, estamos aprendendo a fazer jornalismo sem pensar no que ele é, mas no que a gente acredita que pode ser. Um jornalismo que olhe para as pessoas, antes de mais nada, como gente. Lembrando uma verdade tão simples: que gente é gente, não importa a cor, a grana, como trepa ou o que faça.
Não temos lados. Não somos ativistas, somos jornalistas. O caminho que escolhemos é o da reportagem, porque é o que sabemos fazer. Tudo o que queremos é ir à rua e contar o que vimos lá. Coisas que fazem a gente se indignar, chorar, rir, berrar. Escolhemos a Ponte porque a gente não gosta de olhar para territórios e fronteiras. Preferimos as possibilidades.
Postado por Fausto Salvadori em 26/06/2014
https://inarravel.wordpress.com/2014/06/26/ponte/
“A alma do filho da puta saindo”
Lembro quando ele apareceu com o álbum de fotos. O ano devia ser 2002, talvez 2003. Era alta madrugada, disso tenha certeza, porque estava em meu horário de trabalho. Na época, eu trampava como repórter da madrugada do jornal Agora SP – função hoje extinta na maioria das redações. O trabalho consistia em rodar a cidade coletando histórias de crimes e me colocava em contato diário com policiais, bandidos, vítimas.
Eu e outros repórteres da madrugada estávamos em alguma delegacia do ABC, conversando com um grupo de policiais militares. Quando a entrevista chegou ao fim, o sargento foi até a viatura e voltou de lá trazendo seu pequeno tesouro para mostrar aos jornalistas. Era um álbum de fotografias, daquelas reveladas em uma hora nas lojas da Kodak, como se fazia antes da chegada da TecPix.
“Aqui estão todas as derrubadas”, anunciou. E passou a virar as páginas do álbum. Eram fotos de gente que ele havia matado. Homens caídos no chão, com furos de bala na pele, em meio a poças de sangue, uns com os olhos abertos, alguns prostrados, outros em posturas retorcidas pela dor. Quase todos negros. Negros como o policial que nos mostrava o álbum, com o orgulho do artesão que mostra o catálogo das suas peças mais bonitas.
“Olha esse aqui”, apontava, mostrando um risco de luz sobre a imagem de um cadáver, provocado por um reflexo na lente. “Dá até para ver a alma do filho da puta saindo.”
As coisas mudaram de lá para cá. O pequeno álbum da Kodak era um troféu para poucos olhos. Hoje, os policiais que se orgulham de provocar morte e dor (não estou falando dos que recorrem à força como último recurso e vêm a morte como exceção, seguindo o que determinam as leis e e as normas da corporação) podem mostrar seus troféus de sangue para o mundo todo, via internet.
“Vai demorar aí, caralho? É para morrer”, diz uma das vozes ouvidas no vídeo que registra a agonia de três homens baleados pela PM. Inicialmente postado numa página do Facebook de apoio à polícia paulista, o vídeo passou a ser conhecido pelo grande público após ser denunciado pelos repórteres Rafael Ribeiro, no Diário de S. Paulo, e, depois, por Laura Capriglione e André Caramante. Lembra o vídeo em que outro policial diz “estrebucha” também para um moribundo baleado. Lembra também o vídeo em que detentos filmam corpos decapitados em Pedrinhas, no Maranhão. Ou os vídeos em que o narcotráfico mexicano mostra rivais sendo executados. Ou, ainda, a decapitação do jornalista Daniel Pearl, filmada por terroristas paquistaneses em 2002.
Não há muita diferença no comportamento de policiais, criminosos e terroristas que de alguma forma participaram da produção desses filmes. Não importa o diretor, pertencem ao mesmo subgênero: uma espécie de pornô amador da violência, em que os autores se deliciam em provocar e filmar o sofrimento de um inimigo.
Algo me chamou a atenção lendo os comentários postados na página de apoio à polícia. Não havia nenhum relato acompanhando o vídeo do “é para morrer”. Não dava para saber, naquele momento, quem eram as pessoas que estavam morrendo, nem em que circunstâncias haviam sido baleadas. Mesmo assim, os comentários vibravam com a violência, dando parabéns e pedindo mais mortes. Aceitavam que eram “bandidos” e ponto. Os indivíduos não importam: quem são, suas histórias de vida, os fatos que o levaram até ali. Basta enquadrá-la no rótulo de “bandido” ou “vagabundo” que deixam de ser gente. Passam a ser apenas alguém que merece o ódio.
Seja o policial com seu álbum da Kodak, sejam os autores do mais novo snuff movie de abuso policial, sejam os apoiadores dessa violência, todos parecem ter eleito um grupo a quem podem odiar sem restrições. Contra esse inimigo, vale tudo. Não há sofrimento que seja demais, não há morte que seja ilegítima. Eu posso até gozar ao ver esse sofrimento. O mesmo gozo de qualquer assassino, de qualquer torturador, de qualquer estuprador. Ma, ah!, eu não sou nada disso. Eu sou cidadão de bem. Mesmo quando apoio, desejo ou pratico o mal.
Postado por Fausto Salvadori em 17/04/2014
https://inarravel.wordpress.com/2014/04/17/a-alma-do-filho-da-puta-saindo/
Machuca

Ensinando minha caçula a andar de bicicleta. Uma pedalada de cada vez, um pouco mais a cada dia.
Quando ela hesita, é como olhar para um espelho. Ela está ali, com as mãos no guidão, os pés sobre os pedais, pronta para seguir em frente e tomar a Praça Roosevelt inteira… mas ela cai. Bastaria começar a pedalar para ir em frente, mas ela tem medo de cair. É esse medo que a faz parar, o medo que a faz frear e cair.
“O freio é meu amigo”, ela diz.
Ah, como eu conheço essa queda provocada por nenhum motivo além do medo de cair. Quantas vezes eu não me vejo por aí com as mãos no guidão e os pés nos pedais, com nada a fazer além de pedalar… e eu não pedalo, e caio. Cair por ficar parado. Por travar na hora de fazer o que é tão simples, tão natural e tão bom de fazer.
Ah, mano, dá para meditar, fazer análise, estudar astrologia ou tomar ayahuasca. Mas poucas coisas ajudam tanto a gente a olhar para si mesmo como observar os próprios filhos.
“Pai, não quero mais andar de bicicleta. Machuca.”
“É assim mesmo.”
“Vou querer um patinete.”
“Também machuca.”
“Quero uma coisa que não machuca.”
“Tudo machuca. Viver machuca.”
Ela me dá um beijo:
“E isso, machuca?”
Puxo uns flashbacks da minha cabeça:
“Pode machucar também.”
“Tá. Me compra um sorvete?”
Postado por Fausto Salvadori em 16/01/2014
https://inarravel.wordpress.com/2014/01/16/machuca/
Moleque maravilhoso
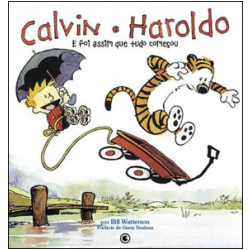 Nada como começar o ano me abastecendo de infância. Fiz isso com Calvin e Haroldo – E foi assim que tudo começou, que peguei emprestado na Biblioteca Monteiro Lobato. O mais legal dessas primeiras histórias é que nunca o Calvin foi tão criança, tão despretensiosamente moleque, sem a pegada mais “filosófica” que as tirinhas ganhariam anos depois. Recomendo para todo mundo.
Nada como começar o ano me abastecendo de infância. Fiz isso com Calvin e Haroldo – E foi assim que tudo começou, que peguei emprestado na Biblioteca Monteiro Lobato. O mais legal dessas primeiras histórias é que nunca o Calvin foi tão criança, tão despretensiosamente moleque, sem a pegada mais “filosófica” que as tirinhas ganhariam anos depois. Recomendo para todo mundo.
 Hiperativo, bagunceiro, cheio de imaginação e muito feliz, Calvin não consegue se concentrar na aula porque prefere lutar contra alienígenas ou tiranossauros dentro da própria cabeça enquanto a professora passa a lição. Vivesse hoje, corria o sério risco de ser diagnosticado com transtorno de deficit de atenção e hiperatividade e dopado com ritalina até virar uma criança apática, incapaz de questionar a realidade e condenada a nunca mais ouvir o rugido de seu tigre de pelúcia.
Hiperativo, bagunceiro, cheio de imaginação e muito feliz, Calvin não consegue se concentrar na aula porque prefere lutar contra alienígenas ou tiranossauros dentro da própria cabeça enquanto a professora passa a lição. Vivesse hoje, corria o sério risco de ser diagnosticado com transtorno de deficit de atenção e hiperatividade e dopado com ritalina até virar uma criança apática, incapaz de questionar a realidade e condenada a nunca mais ouvir o rugido de seu tigre de pelúcia.
A propósito, o prefácio do livro, escrito por Garry Trudeau (de Doonesbury), já sugeria que Calvin e Haroldo é melhor do que qualquer droga. Leia que é dos bons. Ele compara Bill Watterson a um repórter da infância:
Existem poucas fontes de humor mais confiáveis e perenes que a mente de uma criança. A maioria dos cartunistas, seres infantilizados que são, sabe bem disso. Mas, quando se dispõem a captar o espírito tumultuoso dos pequenos, eles quase sempre trapaceiam. Sem pudor, criam não crianças reconhecíveis, mas adultos em miniatura, irritantes e piadistas. Pode-se atribuir isso a indolência ou falha de memória, mas a maioria das pessoas que escrevem diálogos cômicos para crianças dá mostras de uma surpreendente falta de sensibilidade – ou de fé – em relação ao material que as inspira, isto é, a infância, em toda a sua livre e encantadora exuberância.
É nesse sentido que Bill Watterson se revela tão original quanto seus fantasiosos personagens Calvin e Haroldo. Watterson é o repórter que acertou a mão, conseguindo retratar a infância tal como realmente é, com suas constantes mudanças de sistemas de referência. Todos os que conviveram com crianças pequenas sabem que a realidade pode ser uma coisa muitíssimo circunstancial. A expressão daquilo que um adulto considera “mentira” pode muito bem refletir a profunda convicção da criança, pelo menos no momento em que ela aflora. A fantasia, que lhe é tão acessível, é vivida com tal intensidade e frequência que pais melindrados como os de Calvin têm a impressão de estar sendo manipulados, quando a verdade é muito mais assustadora: eles nem sequer existem. A criança é ao mesmo tempo rei e guardião desse reino, e pode ser muito exigente na escolha de suas companhias.
Naturalmente, esse exclusivismo leva muitos adultos a buscarem recuperar para si as descobertas felizes da infância, o que é, na verdade, uma tentativa de recuperar o irrecuperável. Alguns desesperados fazem coisas que terminam por levá-los a clínicas de desintoxicação.
O resto de nós, mais sensatos, lê Calvin e Haroldo.
Postado por Fausto Salvadori em 03/01/2014
https://inarravel.wordpress.com/2014/01/03/moleque-maravilhoso/
O intestino do Andrício
Para falar da obra-prima poética que é O Intestino Eloquente, livro de poemas e tiras de Andrício de Souza, resolvi fazer uns versinhos também.
Um dia avistei o mano Andrício
Que já foi logo falando:
“Véi, me cansei dessa vida
de trampar de cartunista.
Passar fome desenhando?
Vou largar desse suplício.”
Me contou o que pretendia:
“Se é pra viver na pobreza,
Vou assumir a pindaíba
E viverei de poesia.
Serei fodido na vida,
Mas fodido com nobreza.”
Achei que fosse uma piada
(Dessas que vive contando
E a gente dá umas risadas
Pra preservar sua auto-estima).
Mas logo estaria lançando
Seu próprio livro de rimas.
O intestino eloquente
É o nome da produção.
Do autor, dá para afirmar
Que sabe, perfeitamente
E com muita precisão,
Forma e conteúdo encaixar.
Escreve, como ninguém,
Sobre cocô, peido, mijo
Merda, cu, intestino, lixo.
Além de rimar porcarias,
Andrício sabe fazer rimas
Que são porcarias também.
Pois é aí que Andrício supera
Outros poetas da nossa era:
Gente como Glauco Mattoso
Que escreve sobre chulé
Com um soneto garboso,
Métrica e outros rapapés.
Vai, paga os quarenta reais
Desse livro, camarada.
Velhos poetas consagrados,
Que te trazem mais cultura,
Não te divertirão mais
Que o Ed Wood da literatura.
Postado por Fausto Salvadori em 28/12/2013
https://inarravel.wordpress.com/2013/12/28/andricio/
As outras vítimas
Um Estado autoritário tortura e mata seus inimigos. E quem são eles? Podem ser qualquer um.
A gente sabe que a ditadura militar de 1964-1985 tinha os seus alvos preferenciais: sindicalistas, camponeses, militantes de esquerda, movimentos sociais, professores, estudantes. Mas não eram só eles — e isso é o que vejo de mais assustador nas ditaduras. Quando o Estado se presenteia com o direito de torturar e matar quem quiser, todo mundo passa a ser visto como um inimigo em potencial das autoridades, sempre a um passo de ser perseguido pelos motivos mais estúpidos.
Gente como Virgílio Roveda, o Gaúcho, e Roberto Leme, dois operários do cinema da Boca do Lixo sem histórico de atuação política ou militância sindical. Quem poderia imaginar que eles seriam presos e torturados apenas por alugar o apartamento que havia pertencido a um estudante da USP suspeito de atuação “subversiva”, e que, no DOI-Codi, seriam acusados de terrorismo por terem trabalhado nos filmes de terror do Zé do Caixão? Isso aconteceu no segundo semestre de 1973 e é uma das várias histórias contadas num livro muito bacana, O Coringa do Cinema, que o jornalista, historiador e meu amigo Matheus Trunk acaba de lançar pela editora Giostri.
Aqui embaixo, segue um trecho do livro que relata as violências praticadas contra os dois técnicos, e que marcaram ambos, especialmente Roberto, para o resto da vida. Lendo o relato de Matheus, eu fico imaginando se não existe uma multidão de pessoas vitimadas pela ditadura que vem passando despercebida pelos radares dos historiadores e das comissões da verdade, simplesmente porque não faziam parte do grupo de “suspeitos de sempre” que o regime perseguia com regularidade.
Gaúcho e o montador Roberto Leme, o Robertinho, foram levados do apartamento por duas viaturas. Ficaram duas semanas detidos nas dependências do temido DOI-Codi, localizado na mesma rua Tutóia. As lembranças são as piores possíveis. “É um pavor total. Você não tinha noção de mais nada: tempo, futuro. Você só ouve gritos, gemidos. É terrível”.
Nos interrogatórios, davam um pedaço de papel e uma caneta. A ideia era que Gaúcho deveria colocar o nome de pessoas que estivessem colaborando com os movimentos esquerdistas. Mas o técnico não conhecia ninguém que estivesse engajado na luta armada. “Eu ia colocar o nome de quem? Mazzaropi? Mojica? David Cardoso?”.
(…)
As sessões de tortura resultaram em danos irreversíveis tanto em Roveda como no colega Roberto Leme. O diretor de fotografia sulista sofre uma deficiência no ouvido até hoje. Já o montador Roberto Leme tinha alucinações e ficou com mania de perseguição até falecer, nos anos 90. Passadas duas semanas, os militares perceberam que os dois técnicos não eram pessoas ligadas à militância política. “Nesse momento, eles passaram a chamar a gente de merda. O pior é que durante os interrogatórios, eles passaram a me acusar de ser terrorista porque eu trabalhei em filmes de terror com o Mojica. Dá pra acreditar nisso?”.
Virgílio Roveda é uma pessoa que viveu os dois lados da Ditadura. Em 1964, Gaúcho era soldado da 11º Delegacia do Serviço Militar, em Vacaria. Sua companhia foi a última do Brasil a se render ao golpe daquele ano. Ele lembra que seu quartel prendeu colonos que estavam organizando uma cooperativa no Rio Grande do Sul. “Foi algo nojento. Prendíamos pessoas inocentes que não sabiam nada sobre política. Se você fosse barbudo, era tido como comunista. Se tivesse organizando uma cooperativa de trabalhadores também”.
Histórias assim só poderiam vir à luz pelas mãos de um cara como Matheus Trunk, um historiador que sabe que a Muralha da China foi construída pelos seus pedreiros. Matheus é um cinéfilo de coração enorme, onde cabe todos os responsáveis pela feitura dos filmes, não só a aristocracia dos diretores e atores. Nas suas pesquisas, Matheus inclui todos os profissionais envolvidos nessa coisa maluca e coletiva que é o cinema, com um olhar especial para os nomes que só aparecem nos créditos finais.
Com um olhar desses, é natural que Matheus seja um apaixonado pela Boca do Lixo, o movimento do cinema paulista que, nos anos 70 e 80, democratizou como poucas vezes a arte audiovisual. Uma época em que caminhoneiros e taxistas podiam se tornar cineastas e fazer filmes para espectadores parecidos com eles, que lotavam as salas aos milhões.
Quem acha toscos os filmes daquela época precisa lembrar que a Boca produziu cinema de verdade. Acontece que fazer cinema não é só filmar, como fazer literatura não é só escrever livros (já dizia Antônio Cândido): a arte só existe se houver um público. E público os produtos da Boca sempre tiveram.
Postado por Fausto Salvadori em 17/12/2013
https://inarravel.wordpress.com/2013/12/17/as-outras-vitimas/
Histórias para viver
Do livro As narrativas preferidas de um contador de histórias, de Ilan Brenman.
Carne de língua (conto africano)
Há muito, muito tempo, existiu um rei que se apaixonou perdidamente por uma rainha. Depois do casamento, a rainha foi morar no castelo do rei, mas assim que pisou lá, misteriosamente ficou doente. Ninguém sabia o que tinha, ia definhando a cada dia. O rei, que era muito rico e poderoso, mandou chamar os melhores médicos do mundo. Eles a examinaram, mas não encontraram a causa de sua doença. O rei, então mandou chamara os curandeiros mais famosos do mundo. Fizeram preces, prepararam poções e magias. Também não adiantou nada. A rainha emagrecia diariamente, dali a pouco desapareceria por completo.
O rei, que amava sua esposa tão intensamente, decidiu:
— Eu mesmo vou procurar a cura para a doença da minha rainha.
E lá foi ele procurando a cura para sua rainha. Andou por cidades e campos. Num desses campos, avistou uma cabana.
Aproximou-se, colocou o rosto perto da janela e viu, lá dentro, um casal de camponeses. O camponês mexia os lábios e, na frente dele, a camponesa, gordinha e rosadinha, não parava de gargalhar. Os olhos daquela mulher transbordavam felicidade.
O rei começou a pensar:
— O que será que faz essa mulher ser tão feliz assim?
Com essa pergunta na cabeça, o rei respirou fundo e bateu na porta da cabana.
— Majestade! O que vossa alteza deseja? — perguntou o camponês um pouco assustado com a presença real na sua frente.
— Quero saber, camponês, o que você faz para sua mulher ser tão feliz e saudável? A minha rainha está morrendo no castelo, toda tristonha.
— Muito simples, majestade. Alimento a minha mulher todos os dias com carne de língua.
O rei pensou que tinha ouvido errado: CARNE DE LÍNGUA! O camponês repetiu:
— Alimento minha esposa diariamente com carne de língua.
A situação era de vida ou morte. O rei, mesmo achando aquilo meio estranho, agradeceu ao camponês e foi correndo para seu castelo. Chegando lá, mandou chamar imediatamente à sua presença o cozinheiro real:
— Cozinheiro, prepare imediatamente um imenso sopão com carne de língua de tudo o que é animal vivente na terra.
—O que?! Como assim vossa alteza? – perguntou o cozinheiro, com um ponto de interrogação no rosto.
—Você ouviu direito! Carne de língua de todos os animais do reino! Corra, porque a rainha não pode mais esperar.
O cozinheiro foi chamar os caçadores do reino. Depois de algumas horas, já tinha na sua frente língua de cachorro, gato, rato, jacaré, elefante, tigre, girafa, lagartixa, tartaruga, vaca, ovelha, zebra, hipopótamo…
O imenso sopão ficou pronto no meio da noite. O próprio rei foi alimentar a sua rainha com carne de língua. Entrou no quarto e ficou espantado com a aparência de sua amada esposa. Sentou-se ao seu lado, pegou uma colher do sopão e a aproximou da boca da rainha. Com muito esforço, ela engoliu algumas colheradas do sopão.
O rei esperou, esperou e esperou, mas a rainha não melhorava, muito pelo contrário, parecia que a morte a levaria a qualquer momento. Um desespero tomou conta do rei. Se não fizesse algo, a rainha iria embora para sempre.
— Soldado! Soldado! — gritou.
Um imenso homem, com armadura e espada, entrou no quarto.
— Escute bem, soldado. A rainha tem que ser transferida imediatamente para a casa de um camponês. Lá você encontrará uma mulher gordinha e rosadinha, que você a traga até aqui.
O rei explicou ao soldado onde ficava a casa desse camponês. Essa era a única chance, ele imaginava, de a mulher sobreviver.
Talvez ele não tivesse entendido direito o que o camponês lhe dissera.
— Corre, corre, soldado! A vida da rainha depende disso!
O soldado pegou a rainha no colo e com a ajuda de outros homens saiu em disparada até a casa do camponês. A troca foi feita e, assim que a camponesa entrou no castelo do rei, ficou doente misteriosamente. Depois de t rês semanas, a camponesa, que era gordinha e rosadinha, estava magra e triste. O rei, então, decidiu ver como estava a sua rainha.
Chegando na cabana, pôs o rosto na janela e…Não podia ser! A rainha estava gordinha, rosadinha e gargalhava como nunca tinha visto antes. Na frente dela, o camponês não parava de mexer os lábios. O rei bateu à porta:
— Majestade, você novamente aqui. O que vossa alteza deseja?
— Camponês, o que esta acontecendo!? A sua esposa está morrendo no meu castelo e a minha está toda feliz saudável aqui na nossa frente.
— Me diga você, alteza, o que você fez?
—Fiz exatamente o que moce mandou. Dei carne de língua de cachorro, gato, sapo, coelho, girafa… para minha rainha e para sua esposa também. Mas, camponês, nada adiantou.
— Majestade, você não compreendeu o que eu disse. Eu alimento a sua rainha e a minha esposa com carne de língua, que são as histórias contadas pela minha língua.
O rei pensou um pouco sobre aquelas palavras. Lembrou-se também dos lábios do camponês mexendo. Parecia que agora havia entendido. Chamou a sua rainha de volta e devolveu a camponesa para sua casa. Assim que a rainha entrou no castelo, o rei prometeu que daria todas as noites, antes de dormir, carne de língua.
A partir daquele dia, contam os quenianos, o rei contava uma história diferente todas a s noites. E os quenianos nos revelaram que nunca mais essa rainha ficou doente. E esse povo africano ainda nos revela mais um segredo: as histórias fazem muito bem para as mulheres, crianças, jovens, homens e até mesmo para os reis.
Postado por Fausto Salvadori em 11/12/2013
https://inarravel.wordpress.com/2013/12/11/historias-para-viver/
O que eu diria
“Menção honrosa não tem direito a fala”, o pessoal do Prêmio Vladimir Herzog explicou já durante o almoço. Daí que não pude falar o discurso que tinha preparado, para sorte de quem foi ao Memorial da América Latina naquela noite.
A organização do prêmio tinha razão. Eu iria falar demais, e seria chato. Eu falaria o seguinte:
É muita alegria receber o prêmio Vladimir Herzog. As pessoas que mais admiro no jornalismo já receberam esse prêmio, então sei que estou em muito boa companhia.
Queria dedicar esse prêmio a duas pessoas que me ensinaram muito sobre trabalhar direito e sobre fazer o certo.
A primeira pessoa é o meu pai, Fausto Salvadori, que morreu de câncer de pulmão no mês passado. Ele era um consumidor entusiasmado dos produtos da Souza Cruz, que patrocina o evento de hoje.A outra pessoa a quem dedico o prêmio é o colega André Caramante, que me ensinou muito sobre ética e compromisso. André denunciou várias vezes a violência praticada pela polícia do governo do Estado de São Paulo. Por causa dessas denúncias, André foi ameaçado de morte e chegou a ser exilado do País.
Muita gente tem que ser cobrada nessa história. O governo de São Paulo tem que ser cobrado, porque até não descobriu quem ameaçou André. Por sinal, esse governo também é um dos apoiadores do prêmio Vladimir Herzog. Também têm que ser cobrados os políticos que apoiaram as ameaças contra André.
E, principalmente, falta cobrar a Folha de S. Paulo, que até hoje não publicou um editorial, não escreveu uma linha em defesa do repórter deles que foi ameaçado, e ainda colocou esse repórter numa geladeira profissional. É só a gente ver como ficou raro encontrar o nome do Caramante assinando uma reportagem. E um nome como o do André Caramante nunca devia ficar escondido num jornal que leva a sério o seu papel.
É isso. Muito obrigado.
Postado por Fausto Salvadori em 05/11/2013
https://inarravel.wordpress.com/2013/11/05/o-que-eu-diria/
Violências
Não acredito em violência do opressor X violência do oprimido. Violência é opressão. No momento de uma agressão, quem pratica violência é opressor e quem sofre é oprimido. Não importa quem usa farda, quem é branco, quem é negro, quem é homem ou mulher, gay ou hétero. Não importa o que aconteceu antes ou acontecerá depois. Motivos, ideais e causas não justificam a violência, simplesmente porque a violência não precisa de nada disso. Violência é fogo, e fogo não precisa de justificativas para queimar. Ele simplesmente queima. Lutar contra a opressão significa lutar contra toda forma de violência.
Postado por Fausto Salvadori em 27/10/2013
https://inarravel.wordpress.com/2013/10/27/885/










